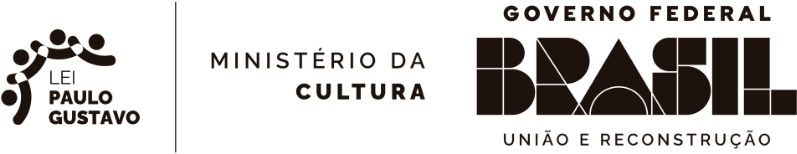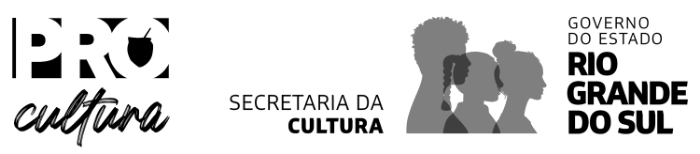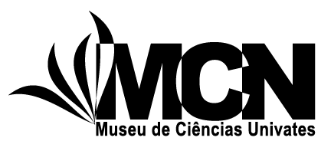1.500 anos atrás
Povos Guarani se estabelecem no Rio Grande do Sul
Os Guarani, povos de matriz amazônica, são falantes do tronco linguístico Tupí e associados à família Tupí-Guaraní. O local exato de origem dos falantes do Tupí ainda não é plenamente conhecido, mas as evidências atuais indicam que seria no sudoeste amazônico, próximo de Rondônia. Em determinado momento, alguns grupos Tupí se deslocaram para o sudeste amazônico e, nesse novo espaço, deram origem às características atribuídas especificamente à família linguística Tupí-Guaraní, da qual os Guarani e os Tupinambá históricos fazem parte.
Há mais ou menos 2.000 anos, ainda sem que se compreenda completamente os motivos, os Tupí-Guaraní saíram do sudeste amazônico e, seguindo as grandes rotas fluviais, realizaram uma das maiores expansões linguísticas pré-coloniais que se têm notícia para a América do Sul. Os que se dispersaram para o nordeste do Brasil e costa atlântica até a altura de São Paulo são associados aos Tupinambá; já os que se dispersaram para o sul do Brasil, Paraguai, nordeste da Argentina, sudeste do Uruguai e partes da Bolívia, são associados aos Guarani.

Vasilhas Guarani pintadas identificadas em Santa Catarina.
Fonte: Carbonera e Loponte (2024).
Como resultado, hoje encontram-se sítios arqueológicos vinculados aos Guarani e aos Tupinambá espalhados por um vasto território de mais de 4.000 quilômetros, que se estende entre a costa e o interior do Brasil, partes da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Como eram exímios canoeiros, utilizaram a ampla malha fluvial disponível na região para se deslocar.
Para habitar, escolheram áreas de baixa altitude (geralmente até 100 metros) próximas de rios e arroios, como planícies de inundação férteis, colinas e encostas suaves. Apesar de terem explorado e habitado biomas diversificados, uma característica parece ter sido muito importante aos Tupí-Guaraní: sempre instalaram as suas aldeias em áreas cobertas por mata. Assim, mesmo saindo da Amazônia, eles continuaram “povos da floresta”.

Interior da Mata Atlântica sul-brasileira, um dos ambientes escolhidos pelos Guarani para o estabelecimento das suas aldeias.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Planícies de inundação do Rio Taquari-Antas escolhidas pelos Guarani para o estabelecimento das suas aldeias.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
Voltando-se apenas ao caso Guarani, os sítios são identificados a partir de cerâmicas pintadas com desenhos geométricos retilíneos e curvilíneos nas cores preta, vermelha e branca; também por cerâmicas sem pintura, mas decoradas com a pressão do dedo (corrugada), marcas de unha (ungulada), incisões, riscos, ponteados ou apenas alisamento. As vasilhas tinham formatos variados, e eram destinadas à beber, comer, cozinhar, guardar líquidos e fermentar bebidas alcoólicas típicas, como o cauim.
Os sítios também são evidenciados a partir de característicos artefatos de pedra polida, como machados polidos, pilões e mãos de pilões, alisadores de arenito e adornos labiais (tembetá). Além da cerâmica e das ferramentas de pedra, os Guarani utilizavam ossos de fauna para produzir pontas e anzóis, assim como elaboraram uma enorme variedade de artefatos feitos em madeira, desde canoas monóxilas (esculpidas em um único grande tronco) até artefatos pequenos de uso diário.

Alisadores de arenitos com sulcos e adornos labiais tembetá localizados na região do Alto Rio Jacuí, na região central do Rio Grande do Sul.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
No território de ocupação Guarani não haviam aldeias isoladas. As aldeias eram ligadas entre si por laços de parentesco e reciprocidade e, uma vez estabelecidos em uma nova região, ali permaneciam durante centenas ou milhares de anos. Dessa forma, a expansão Guarani sempre foi impulsionada para frente, pelo menos até a chegada dos colonizadores europeus.
No registro arqueológico, as áreas onde as aldeias estavam estabelecidas são identificadas pela presença de manchas de terra preta formadas por matéria orgânica decomposta. Em outras palavras, essas manchas representam os negativos das antigas casas desabadas, que ainda resguardam em seu interior restos de fogueiras, fogos e comidas, bem como vestígios arqueológicos de todo tipo.

Artefatos feitos em osso, como pontas e anzóis, recuperados no Vale do Taquari. Sítio RS-T-114. Município de Marques de Souza/RS.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
Para os Guarani, mas também para todos os Tupí-Guaraní, as guerras de conquista eram importantes e alimentavam o ethos guerreiro. Realizavam inúmeros festejos, banquetes e rituais, atividades importantes para a integração comunitária e para o fortalecimento dos laços entre as aldeias e os chefes proeminentes, que se tornavam mais prestigiosos diante das comunidades vizinhas. Enterravam os seus mortos em urnas de cerâmica ou diretamente no solo, deixando junto aos sepultamentos adornos e oferendas funerárias.

Urnas funerárias Guarani recuperadas em Santa Catarina, município de Itapiranga.
Fonte: Carbonera e Loponte (2024).
Além da caça e captura de animais terrestres e aquáticos, possuíam um amplo conhecimento sobre a ecologia das florestas, o que permitiu que desenvolvessem, também, um eficiente sistema de cultivo de plantas domesticadas. Ainda na Amazônia, esses povos criaram técnicas de manejo agroflorestal que uniam uma alta variedade de cultivos alimentares de roça ao uso de plantas da mata. Conheciam e cultivavam mais de 120 espécies domesticadas (como milhos, feijões, batatas, inhames, amendoins, abóboras, melões e muitos outros) e mais de 1.200 plantas silvestres obtidas diretamente das matas.

Vestígios carbonizados de espiga de milho, grãos de milho e feijões identificados em sítios Guarani do Vale do Taquari. Município de Marques de Souza/RS.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates
A ocupação Guarani em tempos pré-coloniais ocorreu em três fases de expansão. A primeira se desenvolveu entre 1.500 e 1.200 anos, quando passaram a colonizar rapidamente áreas do Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Entre 1.200 e 700 anos atrás, uma segunda fase caracteriza-se por um ligeiro aumento de sítios nas áreas já ocupadas e também pela exploração de novas áreas, como no nordeste da Argentina, no interior e litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Foi nessa fase, por volta de 1.200 anos, que o sinal arqueológico Guarani fica mais evidente no Rio Grande do Sul. É preciso destacar que na região central do Rio Grande do Sul, mais especificamente no município de Dona Francisca, há uma data que aponta a possibilidade de a chegada ter ocorrido um pouco antes, há cerca de 1.500 anos atrás. Esses resultados ainda precisam ser melhor compreendidos com pesquisas futuras. De todo modo, a via de entrada dos Guarani parece ter sido pelo oeste ou noroeste gaúcho, cruzando o Rio Uruguai.
Por fim, entre 700 e 400 anos, uma última fase foi identificada para o período pré-colonial. Essa fase é caracterizada pela maior cobertura territorial atingida por esses povos, com sítios presentes até na foz do Rio da Prata (entre Argentina e Uruguai), e pelo impressionante adensamento de sítios em todas as áreas já ocupadas, demonstrando com clareza que nesta fase os Guarani estavam vivendo o seu ápice demográfico e expansionista.
Quando os europeus desembarcaram na costa brasileira no início do século 16, os Guarani viviam no seu auge, como dito acima. Embora o processo de contato tenha resultado no declínio demográfico desses e de outros povos indígenas, marcado especialmente pelas epidemias e pelos conflitos, muitas aldeias mantiveram-se ativas após o processo colonial. Hoje, por exemplo, existe um contingente de mais de 280.000 indígenas Guarani estabelecidos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai e Bolívia, que se dividem entre as parcialidades Mbya, Nandeva e Kaiowa.

Mulheres e crianças Guarani se refrescam no rio após mutirão de plantio na aldeia Yrexakã, São Paulo/SP. Ano de 2015.
Fonte: Foto de Luiza Mandetta Calagian (Disponível em Povos Indígenas no Brasil).
Referências
CARBONERA, Mirian; LOPONTE, Daniel. Catálogo de cerâmica arqueológica Guarani do Alto Vale do Rio Uruguai. 1. Ed. Unochapecó. 2024.
CORRÊA, Ângelo A. Pindorama de mboîa e îakaré: continuidade e mudança na trajetória das populações Tupi. 2014. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
LOPONTE, Daniel; CARBONERA, Mirian; SCHNEIDER, Fernanda; GASCUE, Andrés; MILHEIRA, Rafael G.; SANTOS, Marcos C. P.; CAMPOS, Juliano B.; CEREZER, Jedson; LOURDEAU, Antoine; ACOSTA, Alejandro; BORTOLOTTO, Noelia; ROGGE, Jairo H.; MACHADO, Neli T. G.; ALI, Sheila; PÉREZ, Maricel; BANDEIRA, Dione da R.; MULLER, Isabella; BORGER, Jacqueline. The Guaraní expansion through the Lowlands of South America, Archaeological and Anthropological Sciences, 17:78, 2025.
NOELLI, Francisco S. Sem Tekohá não há Tekó: em busca de um modelo etnoarqueológico da aldeia e da subsistência Guarani e sua aplicação a uma área de domínio no delta do Rio Jacuí-RS. 1993. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993.
NOELLI, Francisco S.; VOTRE, Giovana C.; SANTOS, Marcos C. P.; PAVEI, Diego D.;
CAMPOS, Juliano B. Ñande reko: fundamentos dos conhecimentos tradicionais ambientais Guarani. Revista Brasileira de Linguística Antropológica, Brasília, DF, v. 11 n. 1, 2019.
SCHNEIDER, Fernanda; WOLF, Sidnei; KREUTZ, Marcos R.; MACHADO, Neli T. G. Tempo e espaço Guarani: um estudo acerca da ocupação, cronologia e dinâmica de movimentação pré-colonial na Bacia do Rio Taquari/Antas, Rio Grande do Sul, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA, v. 12, n. 1, 2017.