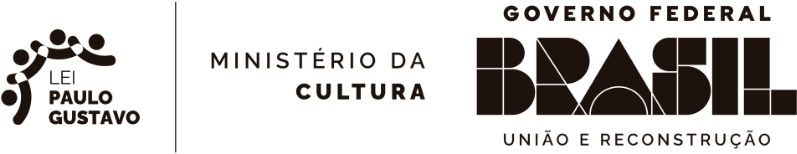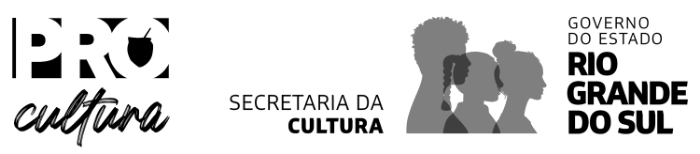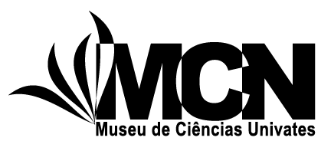1.800 anos atrás
Chegada dos povos Jê do Sul no Rio Grande do Sul
Os Jê do Sul são povos falantes do ramo sul da família linguística Jê. Essa família é formada pelos falantes do Ingain e Kimdá, atualmente extintos, e pelos falantes do Kaingang e do Xokleng, povos ainda presentes no sul do Brasil. Os vestígios arqueológicos têm indicado que se originaram há 2.200 anos no Brasil Central. Dessa região, teriam se expandido para o sudeste e, do sudeste, para o sul do Brasil. A chegada no Rio Grande do Sul parece ter ocorrido por volta de 1.800 anos atrás, pelo nordeste gaúcho.
A dispersão resultou em uma grande área de ocupação pré-colonial, com sítios distribuídos em diferentes zonas ecológicas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como em partes específicas da Província de Misiones, na Argentina. Os sítios aparecem em áreas de baixa altitude, nas encostas da Mata Atlântica e no litoral sul, mas foi nas terras altas do Planalto das Araucárias, em meio ao mosaico campo e floresta dominado pelo pinheiro de araucária, que as aldeias mais duradouras e proeminentes proliferaram.

Mosaico campo/floresta de araucária no Planalto catarinense. Paisagem preferencialmente ocupada pelos Jê do Sul. Município de Urubici/SC.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
A identificação dos sítios Jê do Sul se dá pela presença de pequenos potes de cerâmica com paredes finas e decorações com marcas de unhas, incisões geométricas e impressões em cestaria; grandes artefatos de pedra lascada e polida; enterros coletivos em grutas; arte rupestre em abrigos; complexos funerários compostos por aterros anelares e montículos centrais; plataformas de terra; e estruturas subterrâneas.

Potes de cerâmica Jê do Sul recuperados no Planalto de Santa Catarina e em Misiones, Argentina.
Fonte: Carbonera e Loponte (2025).
As estruturas subterrâneas, que também podem aparecer denominadas como “casas subterrâneas”, geralmente são encontradas nas áreas mais elevadas das terras altas do sul do Brasil, acima de 800 metros de altitude. Possuem entre dois e 20 metros de diâmetro, mas podem chegar até 25 metros em alguns casos. Embora também sejam encontradas isoladas, normalmente aparecem em conjuntos que formam pequenas, médias ou grandes aldeias.
Nos maiores assentamentos, que podem conter mais de 100 casas, as estruturas são planejadas em arranjos lineares ou semicirculares e, às vezes, ligadas por uma série de vias. Nos sítios localizados em áreas de menor altitude, a presença de casas subterrâneas é muito rara, mas, em seu lugar, aparecem manchas de terra preta que correspondem aos restos arquitetônicos das antigas aldeias e acampamentos.

Vista aérea de casa subterrânea dos Jê do Sul. Sítio SC-CL-12. Município de Painel/SC.
Fonte: Carbonera e Loponte (2025).

Estruturas subterrâneas Jê do Sul. Sítio Banhado Seco III. Município de Capão Alto/SC.
Fonte: Carbonera e Loponte (2025).
As primeiras pesquisas sugeriram que os Jê viviam em pequenos acampamentos sazonais e que realizavam movimentos entre a encosta e o litoral para captar recursos alimentares. No entanto, o avanço das pesquisas revelou que o Planalto sul-brasileiro foi ocupado ininterruptamente durante séculos por esses povos. Além disso, ao contrário de pouca diversidade econômica e alta dependência do meio, as evidências têm apontado que combinavam atividades extrativistas de caça, coleta e pesca com o cultivo de plantas já domesticadas, como mandioca, feijão, milho, abóbora e cará.
Embora os sítios se tornam mais comuns a partir de 1.500 anos atrás, inclusive no Rio Grande do Sul, foi no ano mil que as maiores transformações aconteceram entre esses povos. Além da ocupação de muitas áreas novas, algumas aldeias Jê apresentaram um formidável crescimento interno, quando casas subterrâneas de tamanhos monumentais passaram a ser construídas.
Enquanto o crescimento dos sítios sugere aumento populacional, a construção das casas grandes sugere que os laços ficavam mais fortes entre as comunidades, uma vez que a mão de obra cooperativa passava a ser necessária entre o grupo. Por consequência, é possível pensar que hierarquias ascendiam entre esses povos.

Escavação de casa subterrânea identificada no sítio RS-T-126. Município de Arvorezinha/RS.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
Também é a partir do ano mil que a Floresta de Araucária passa por uma rápida fase de expansão. Confirmando uma suspeita antiga entre os arqueólogos de que essa expansão florestal estaria associada ao crescimento dos assentamentos Jê, dados recentes demonstraram que o manejo desses povos sobre a Floresta de Araucária – intencional ou não – foi fundamental para o fenômeno.
Por fim, é a partir do ano mil que os aterros anelares e os montículos com enterramentos passam a ser construídos, marcando uma nova fase para a arquitetura funerária desses povos. Os aterros, que ficaram conhecidos como “danceiros” entre os viajantes europeus do século 16, são elevações de terra feitas com formas circulares ou elípticas em diâmetros de 20 a 180 metros. Esses círculos envolvem montículos centrais que podem conter enterramentos humanos cremados. Outros formatos, ou mesmo plataformas retangulares ou circulares, também são encontrados.

Plataforma redonda localizada no Sítio Passo Fundo 1. Município de Lages/SC.
Fonte: Carbonera e Loponte (2025).

Aterro anelar envolvendo montículo central evidenciado no Sítio João Machado. Município de Vargem/SC.
Fonte: Carbonera e Loponte (2025).
O surgimento da nova arquitetura Jê acontece ao mesmo tempo em que grupos Guarani avançam sobre as terras altas do Planalto das Araucárias. Essa combinação de fatores levou alguns arqueólogos a sugerir que o aparecimento da arquitetura funerária Jê teve relação com a pressão expansionista dos Guarani. De fato, naquele momento os Guarani já circunscreviam os territórios Jê da borda do Planalto.
Para essa teoria, as estruturas anelares foram construídas nas áreas mais sedentarizadas e organizadas como forma de materializar a resistência frente aos forasteiros, também como demonstração de capacidade de mobilização e como uma nova forma de defesa do espaço Jê. Como resultado, as áreas em que essas estruturas foram construídas nunca foram alcançadas pelos Guarani e, ali, as aldeias Jê proliferaram até o século 19. Por outro lado, algumas outras áreas ocupadas pelo Jê foram abandonadas frente ao avanço Guarani, como foi visto no Vale do Taquari.
Referências
CORTELETTI, Rafael. Projeto arqueológico Alto Canoas – Paraca: um estudo da presença Jê no planalto catarinense. 2013. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
DE SOUZA, Jonas G.; CORTELETTI, Rafael; ROBINSON, Mark; IRIARTE, José. The genesis of monuments: resisting outsiders in the contested landscapes of Southern Brazil”, Journal of Anthropological Archaeology, v. 41, 2016.
NOELLI, Francisco S.; SOUZA, Jonas G. Novas perspectivas para a cartografia arqueológica Jê no Brasil meridional. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, v. 12, n. 1, 2017.
SCHMITZ, Pedro I.; NOVASCO, Raul. Pequena história Jê Meridional através do mapeamento dos sítios datados. Pesquisas, Antropologia 70, São Leopoldo, 2013.
WOLF, Sidnei. Arqueologia Jê no Alto Forqueta/RS e Guaporé/RS: um novo cenário para um antigo contexto. 2016. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2016.