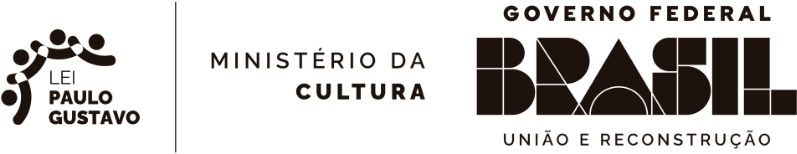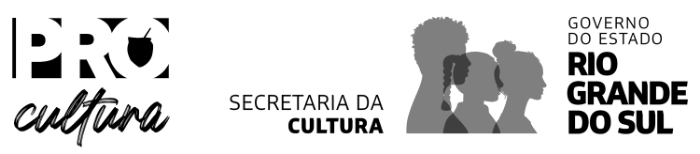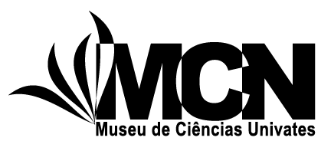2.500 anos atrás
Primeiros cerritos são construídos no Rio Grande do Sul
Cerritos são aterros pré-coloniais indígenas geralmente encontrados em ambientes alagadiços (banhados e charcos), tanto em planícies como em serras. São formados basicamente por solo, restos de comida, artefatos feitos em ossos e conchas, artefatos de pedra e, em determinados níveis, por cerâmica, fogueiras, enterramentos humanos e oferendas funerárias.
Entre os artefatos de pedra aparecem pontas de projétil, “quebra-coquinhos”, lascas e bolas feitas de pedra polida, popularmente conhecidas como boleadeiras. As bolas de boleadeiras são redondas ou ovais, lisas, com sulco ou ainda mamilonares, e eram utilizadas tanto para a caça quanto para ataque e defesa.

Bolas de boleadeira localizadas no Rio Grande do Sul, sem procedência definida.
Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.
Mais de 3.000 cerritos já foram registrados entre o bioma Pampa e a costa atlântica, em um grande território que envolve a metade sul do Rio Grande do Sul, o norte e leste do Uruguai, o nordeste da Argentina e o Delta do Rio Paraná, também na Argentina.
O tamanho dos aterros oscila desde microrrelevos (30 centímetros) até grandes plataformas com sete metros de altura. Os formatos podem ser circulares ou elípticos. Geralmente, ocorrem em conjuntos que chegam a uma centena, embora sejam conhecidos sítios isolados na paisagem.
No nordeste do Uruguai são encontrados os cerritos mais antigos, cujas datas atingem quase 5.000 anos. É também no Uruguai onde os cerritos possuem as maiores dimensões. No Rio Grande do Sul, por sua vez, os aterros são mais recentes (entre 2.500 e 200 anos) e não têm volumes tão imponentes, alcançando dimensões de até 2 metros de altura.

Grande cerrito identificado no Uruguai.
Fonte: Foto de Laura Del Puerto. La diaria ciencia (ladiaria.com.uy).
As primeiras interpretações arqueológicas caracterizaram esses montículos como resquícios de ocupações de caçadores e coletores que se movimentavam sazonalmente pelos campos sulinos. Com o avanço das investigações, entretanto, se passou a perceber que os cerritos foram construídos por povos sedentários organizados em assentamentos bem planejados e voltados para a vida comunitária.
Duas fases de ocupação foram identificadas para esses povos. No momento inicial, entre 5.000 e 3.300 anos, o centro dos aterros era utilizado como habitação e os resíduos do dia-a-dia, como os restos dos lascamentos, de comida e das fogueiras, eram varridos para as bordas, resultando em um progressivo aumento das estruturas. Nessa fase inicial não são encontradas cerâmicas, mas há indícios de que milho e abóbora já eram cultivados entre esses povos.
Em uma fase posterior, a partir de 3.300 anos, os cerritos passam a apresentar cerâmica e um maior número de enterramentos. Alguns perdem a sua função de habitação e passam a ser projetados e utilizados como cemitérios comunitários. Outra novidade observada nessa fase é a presença de vestígios de cães domesticados entre os conjuntos de fauna.
Além disso, nessa segunda fase ocorre um importante adensamento de cerritos nos locais já ocupados, bem como a expansão para áreas novas. Foi esse novo fluxo de ocupação que impulsionou os cerriteiros mais para o norte do Uruguai, quando passam a ocupar os campos úmidos do interior do Rio Grande do Sul.
No lado gaúcho, as ocupações foram mais densas na margem ocidental da Laguna dos Patos e ao redor da Lagoa Mirim, com datas recuperadas desde 2.500 até 200 anos atrás, como já ressaltado acima.

Vista aérea da Laguna dos Patos, Rio Grande do Sul, cuja margem ocidental foi densamente ocupada pelos povos dos cerritos.
Fonte: NASA (Domínio Público).

Escavação de cerrito no sul do Rio Grande do Sul.
Fonte: Acervo do LEPAARQ-UFPel.
Ao longo dos mais de 2.000 anos de ocupação das áreas alagadiças do Rio Grande do Sul, especialmente na região da Laguna dos Patos e Lagoa Mirim, os cerriteiros desenvolveram comportamentos de consumo fortemente voltados à exploração de animais aquáticos. Conjuntos ósseos de fauna recuperados em determinados sítios revelaram que mais de 90% das espécies consumidas era formada por peixes estuarino-dependentes, como bagres, corvina e miraguaia. Outras espécies identificadas, como aves de banhado, quelônios de água-doce e mamíferos terrestres (principalmente pequenos carnívoros e cervídeos), têm frequência muito reduzida.

Vista aérea das áreas alagadiças do sul do Rio Grande do Sul, onde centenas de cerritos foram identificados. Canal São Gonçalo, Pelotas/RS.
Fonte: Acervo do LEPAARQ-UFPel.

Vista aérea de um cerrito (meia-lua mais clara no canto direito da figura).
Fonte: Acervo do LEPAARQ-UFPel.
De fato, análises feitas em ossos humanos de indivíduos sepultados em cerritos da Laguna dos Patos demonstrou a presença de patologias esqueléticas oriundas de atividades intensas e repetitivas típicas de pescadores, como traumas da cabeça da ulna (que afetam o cotovelo), achatamento da tíbia (indicativo de agachamento por longos períodos) e ossos da clavícula com entesopatia e artrose. Além disso, a importância do ambiente aquático para a vida desses povos foi verificada em elementos simbólicos, como a identificação de pingentes feitos em dentes de golfinho junto de sepultamentos.

Fragmento de cerâmica e ossos de fauna recuperados em cerrito no sul do Rio Grande do Sul.
Fonte: Acervo do LEPAARQ-UFPel.
Diferente dos povos sambaquieiros que não mais existiam quando os europeus chegaram à costa litorânea, os construtores de cerritos ainda ocupavam algumas das suas áreas originais. Viajantes europeus dos séculos 16 e 17 descreveram as aldeias como um complexo sistema de tolderias, isto é, choupanas para cortar os fortes ventos. As tolderias eram integradas aos cemitérios, às armadilhas de caça, aos caminhos, às áreas de pesca e caça e formavam comunidades habitadas por centenas de pessoas. No que se refere à continuidade histórica, os cerritos localizados entre o Brasil e Uruguai são associados aos indígenas Charrua; já na região da Laguna dos Patos e Lagoa Mirim, aos grupos Minuano; e na Argentina, aos grupos Chaná-timbú.
Referências
BONOMO, Mariano; POLITIS, Gustavo G.; GIANOTTI, Camila. Montículos, jerarquía social y horticultura en las sociedades indígenas del Delta Del Río Paraná (Argentina). Latin American Antiquity, v. 22, n. 3, 2011.
IRIARTE, José; DEBLASIS, Paulo A. D.; DE SOUZA, Jonas G.; CORTELETTI, Rafael. Emergent complexity, changing landscapes, and spheres of interaction in southeastern South America during the Middle and Late Holocene. Journal of Archaeological Research, v. 25, n. 3, 2016.
MILHEIRA, Rafael G. Visibilidade, comunicação e movimento entre os cerriteiros na paisagem aquática da laguna dos Patos, Sul do Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, Belém, PA, v. 16, n.1, 2021.
MILHEIRA, Rafael G.; GARCIA, Anderson M.; RIBEIRO, Bruno L. R.; ULGUIM, Priscilla F.; SILVEIRA, Cleiton S.; SANHUDO, Marcelo da S. Arqueologia dos Cerritos na Laguna dos Patos, Sul do Brasil: uma síntese da ocupação regional. Cadernos do CEOM, Chapecó, SC, v. 29, n. 45, 2016.