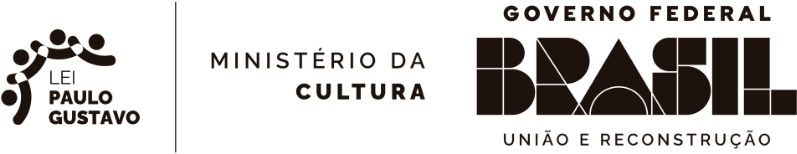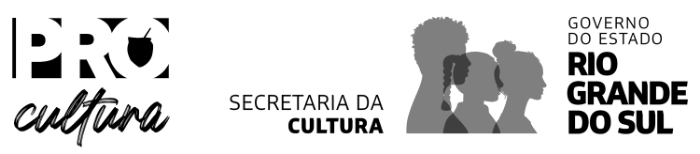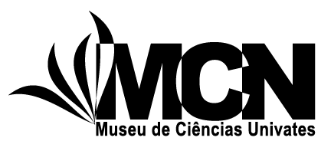1867
Conflito entre indígenas Kaingang e imigrantes alemães em São Vendelino
A região do Vale do Rio dos Sinos foi palco de episódios violentos entre indígenas Kaingang (descendentes dos Jê do Sul) e imigrantes alemães. Em 26 de fevereiro de 1829, por exemplo, o ataque sofrido por imigrantes estabelecidos na Picada dos Dois Irmãos, pertencente à colônia São Leopoldo, resultou em cinco mortes de alemães, descritas no relatório do Inspetor da Colônia.
Nos anos seguintes, o número de casos aumentou. Em 1834 e 1835, aconteceram assaltos na localidade de Campo Novo, na primeira légua de São Leopoldo. Em 1843, os Kaingang atacaram a propriedade de Jacó Bohn, no Vale do Rio Caí. Nesse episódio, houve revide, um contra-ataque dos colonos alemães, que fizeram um menino indígena como prisioneiro.
Os ataques tinham certas características. No início de cada ano eram mais frequentes, pois os indígenas aproveitaram para saquear as roças de milho que se encontravam prontas para a colheita. Em seguida, destaca-se a procura por objetos de ferro e tecidos. Por fim, a captura de mulheres e crianças, de ambos os lado, também acontecia.

Centro de São Vendelino/RS.
Fonte:https://viajandocommarcosh.wordpress.com/2019/05/26/8km-ate-o-morro-da-canastra/
O caso da família Versteg
Um evento que repercutiu nas colônias de imigração aconteceu no final de 1867, quando integrantes da família Versteg, moradores da colônia em São Vendelino, foram sequestrados e feitos como prisioneiros por indígenas Kaingang. No episódio, participou o indígena conhecido nas colônias como Luís Bugre.
Luís Bugre, ainda jovem, havia sido capturado em 1847 pelos colonos, quando participou com um grupo Kaingang de um ataque à Colônia Feliz. Após ter sido ferido na perna, não conseguiu acompanhar seu grupo. Depois do episódio, Luís passou a viver com Matias Rodrigues da Fonseca, de origem portuguesa, integrado à colônia alemã.
O menino foi batizado na religião católica com o nome de Luís Antônio da Silva Lima, e instruído no português e no alemão. Assim, nesse contexto, Luís Bugre, apelido que recebeu dos colonos e que não gostava, cresceu passando a viver tanto nas colônias quanto nas aldeias, mantendo relações com os indígenas e colonos.
O episódio envolvendo a família de Versteg e Luís Bugre teve início em dezembro de 1867. O morador Lamberto Versteg, de São Vendelino, saiu de sua propriedade deixando sua esposa, Valfrida, e dois filhos, Jacó de 14 anos e Lucila, com 12 anos. Logo depois de sua partida, Valfrida recebeu a visita de Luís Bugre, que soube da saída de Valberto em um armazém, a venda de Eisenbarth, que além de comercializar produtos, era uma espécie de difusão de notícias, cartas e recados dos moradores das colônias.
Luís Bugre pediu que Valfrida colocasse um pano branco no telhado da casa, como um símbolo de que aquela família era amiga e que nada iria acontecer com eles. Mesmo assim, a propriedade foi atacada por um grupo de indígenas que levaram como prisioneiros Valfrida e seus dois filhos.
Quando voltou para casa, Lamberto não encontrou mais sua família. Logo depois um grupo de colonos se reuniu partindo mato a dentro para procurar os sequestrados. Após dias de buscas sem sucesso na empreitada, desistiram. A continuidade das buscas seria, a partir daquele momento, de responsabilidade do governo.
Após uma nova busca, o grupo designado pelo governo não encontrou os sequestrados, pois os indígenas tinham se mudado, abandonando a antiga aldeia. Diante disso, Lamberto decidiu vender a propriedade e ir embora, sem que ninguém soubesse seu destino.
Não se sabe o que aconteceu com as mulheres (mãe e filha), mas Jacó, o filho, conseguiu fugir e ir para São Leopoldo, onde seis meses depois reencontrou o pai, Lamberto. Depois de ficarem por um período juntos, Lamberto faleceu, e Jacó Vertsteg voltou para São Vendelino, onde casou com Carolina Weirich, com quem teve treze filhos.
A história da família Versteg se transformou em livro. Jacó Versteg, o sobrevivente do sequestro, em idade avançada, relatou todo o episódio ao Monsenhor Matias José Gansweidt, cuja obra foi publicada em 1946, e ficou conhecida como “As Vítimas do Bugre”.
É importante ressaltar que na obra “As Vítimas do Bugre” os acontecimentos são relatados apenas sob a ótica dos imigrantes. Assim, a história contada e resumida acima deve ser entendida como uma verdade relativa, que prioriza a versão dos alemães.
Para saber mais
A palavra “bugre” foi utilizada no Brasil, e em diversos lugares, de maneira pejorativa para designar indígenas de distintos grupos considerados arredios, não dispostos aos projetos de catequização e, posteriormente, de civilização implementados pela administração da Colônia e do Império.
Referências
DORNELLES, Soraia S. A história em As vítimas do bugre, ou como tornar-se bugre na História. Anos 90, Porto Alegre, v. 18, n. 34, 2011.
GANSWEIDT, Matias José. As vítimas do Bugre. Porto Alegre: Selbach, 1946.
MONTEIRO, John M. Tupis, tapuias e historiadores: estudos de história indígena e do indigenismo. Tese de Livre Docência – Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2001.